Sabine Mendes Moura é mais uma convidada do Quintas pretas, projeto da Intrínseca que abre espaço semanalmente para mulheres negras pautarem conversas sobre temas fundamentais para a nossa construção como sociedade.
Por Sabine Mendes Moura

Nos anos 1980 e 1990, enquanto eu crescia em uma vila do subúrbio carioca, não se falava sobre racismo, branquitude, colorismo ou passabilidade — existia apenas “gente como eu”. A “pretinha da vovó” tinha que estudar, aprender a arrumar a casa e se esforçar muito. Estudar era coisa que eu fazia pela vovó, porque a vovó não pôde estudar. Era uma honra. Era o justo. Um legado.
Gente como eu ouvia que o irmão — branquinho, do cabelo claro — devia ser “filho do padeiro”. Mas não adiantava pensar muito nisso. “Perda de tempo”, diziam. Também não devia ligar quando meninos se recusassem a ser meu par na dancinha da escola. “Vai com aquele outro que tem mais a ver contigo”, diziam. E “o que tinha a ver” era o tom mais escuro da pele. “Aquele outro” era o menino que “acabou sobrando” também.
Eu tinha que me preocupar de verdade era com não abrir a bolsa em lojas, com justificar sempre minhas atitudes e, na dúvida, pedir desculpas, muitas desculpas, para não ofender ninguém. Devia me preocupar com pentear o cabelo — sinônimo de alisá-lo —, para todos saberem que eu era arrumadinha e limpinha. Nada de química: eram toucas à noite e um tal de prender molhado, repuxando o couro cabeludo ao máximo, na esperança de o cabelo gravar o formato chapado por uma ou duas horas.
Maquiar-se era encher a cara de pó de arroz, um bege cor de areia seca. Quanto mais diferente do pescoço o rosto ficasse, mais caprichado! Ainda tenho uma foto de quando tinha uns quinze anos, em que minha cabeça flutua, fantasmagórica, destacada de meu corpo, de tanto pancake! Era o final de uma peça de teatro da escola, para a qual, seguindo orientações pedagógicas, fiquei um mês passando filtro solar fator 50, tentei emagrecer quinze quilos (consegui dez) e entoquei meu cabelo em um coque melado de gel, acoplando-lhe um aplique de cabelos lisíssimos.
Acontece que eu queria ser atriz. E, para poder pegar um texto maior na dramaturgia de época, precisava estar de acordo com o papel. “Gente como você não é casting para mocinhas românticas do século XIX”, disseram. Mas lembra que eu aprendi a me esforçar? Me empenhei tanto pela chance de dizer um parágrafo de texto e ao final ouvi, como conselho vocacional: “Vai para trás das câmeras! Você é tão esperta… Pra que tudo isso se já sabe que, no mercado de trabalho mesmo, não vai rolar?”
Demorei muitos anos para entender exatamente o que era “gente como eu”. Em parte, porque estava cercada de privilégios, dos quais só me dei conta quando virei mãe — aos dezenove anos — e, depois, professora. De legado, eu entendia. Sabia que não estava ali de pé sozinha. Ralando bastante, sim, mas nunca sozinha. Estava amparada pela construção de quem me precedeu, muitos dos quais nunca soube a história, fofocas sussurradas em festas de Natal…
Lecionando, era fácil perceber quem tinha ou não os recursos de que eu dispus por ter sido criada em uma família inter-racial de classe média, com membros provenientes de muitas partes do Brasil. Eu tive a escola particular, os cursinhos de inglês e de dança, assim como a dedicação daqueles que me empurraram para fora do ninho dizendo “voa”. Depois da faculdade — sonho herdado, dívida cumprida —, restava saber: “Voar para onde? Me esforçar para quê? Para quem?”
Porque estamos falando do “antes”, lembra? Antes que os processos de racialização tivessem nome. Nada do que contei era compreendido como uma questão de raça por minha família, professores e amigos. E, talvez, você esteja pensando: se não era, por que trazer isso à tona agora? Porque hoje entendo o racializar-se não apenas como um processo de reconhecer o racismo sofrido, mas também como uma oportunidade de construir um futuro querido.
Como mulher negra de pele clara, vivendo no contexto de classe média que descrevi, não tive medo de ser presa injustamente, não fui ensinada a temer policiais na rua, mas sabia que os padrões de correção, beleza e normalidade, em geral, não estavam do meu lado. Fui ensinada a não criar problemas, a não expor minha opinião, a concordar com as regras criadas por meus superiores — invariavelmente brancos —, mesmo que não visse lógica alguma nelas. Era a política do “não mexa com quem está quieto”.
Fui ensinada a aceitar menos, a querer menos e cheguei a acreditar que essa era uma questão aplicável a todas as mulheres, até perceber que, dependendo de como me visto, por exemplo, o tratamento direcionado a mim é bem diferente do das minhas colegas brancas. Não importa se entro em uma loja, em um restaurante ou na universidade particular em que fui professora, serei lida como atendente ou secretária em questão de segundos. Dependendo do bairro, basta ostentar meus cabelos como vieram ao mundo para que isso aconteça.
O que me traz de volta às perguntas: “Me esforçar para quê? Para quem?” Ultimamente, construir um futuro querido tem sido aprender a criar problemas estratégicos para a branquitude e espalhar visões de mundo não ocidentalizadas, onde quer que seja possível.
Meus privilégios — e meu compromisso com “ser esforçadinha” — me deram tempo (existe privilégio maior?), diplomas e recursos técnicos (conhecimento), que por sua vez me possibilitaram lançar projetos e negociar. Que meu esforço não seja definido por quem jamais será capaz de reconhecê-lo. Que ele esteja a serviço de “gente como eu”. Que os nomes de que agora dispomos para discutir nossas vivências nos ajudem a entender o poder desse “para quem?”.
E que a gente se lembre de que, se hoje temos vocabulário para expressar os milhares de tons do colorismo no Brasil, isso não se deve apenas aos que chegaram à academia, mas também aos que constroem fora dela e aos que sonharam nos colocar lá.
Sabine Mendes Moura é escritora, editora e diretora da Editora Nua. Doutora e Mestre em Estudos da Linguagem (PUC-Rio), Especialista em Língua Inglesa e Educação e Tecnologia (UVA), Licenciada em Letras Português/Inglês e Bacharel em Cinema (UFF). Recentemente, publicou Pervertidos (Mocho Edições, 2020), entre seis outros livros e quatro participações em coletâneas. Na Editora Nua, publica autores negres, LGBTQIA+, neurodivergentes, ativistas, cujos textos fujam do que se entende por “literatura comercial”.







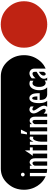
Siga-nos