Por Amara Moira*

Em 2014, comecei a minha transição de gênero. Também foi o ano em que conheci um grupo que tem transformado radicalmente os sentidos de “familia” para pessoas LGBTQIA+ no Brasil, o Mães Pela Diversidade. Quem me apresentou essa organização foi sua fundadora, Maju Giorgi, e ela o fez contando os percalços enfrentados pelo coletivo desde o começo, e do quanto pode ser árduo convencer mães de pessoas LGBTQIA+ a lutarem contra a homo/transfobia que vitima seus filhos e filhas. Nas primeiras ações públicas do coletivo, feitas na Avenida Paulista, Maju chegou a pagar para passantes aleatórias posarem segurando cartazes contra a LGBTfobia, tudo para não parecer que o “Mães” do coletivo era somente ela.
Funcionou. No período em que a conheci, filiais do coletivo já começavam a se multiplicar Brasil afora , cada vez mais eficientes em trazer mães (e pais, ainda que de forma mais tímida) para a luta por uma sociedade livre de preconceitos por orientação sexual e identidade de gênero. Desde então, famílias começaram a engrossar nosso lado na batalha e é maravilhoso ver os relatos de aceitação e apoio se avolumando na comunidade. O desprezo, a violência e mesmo a expulsão de casa, embora ainda sejam atitudes esperadas por quem quer que se assuma ou seja tirado do armário, pouco a pouco são substituídos pela existência de famílias que se tornam um espaço que podemos chamar de nosso, um espaço de proteção para pessoas LGBTQIA+.
Encontrando apoio dentro de casa, podendo conversar de forma mais aberta com familiares sobre as angústias e as delícias de se descobrir habitante do Vale, fica bem mais fácil enfrentar os não poucos desafios que teremos pela frente só por não nos enquadrarmos nos padrões de sexualidade e gênero hegemônicos. Esses desafios, mesmo com apoio familiar, já são enormes, mas podem ser ainda mais avassaladores caso a família se torne uma instância a mais de violência contra nós.
A aceitação que tive por parte da minha família foi sempre parcial. Não me expulsaram de casa, tampouco me agrediram ao descobrirem, por volta de meus 19 anos, que eu era bissexual ou, dez anos depois, que estava começando minha transição de gênero. No entanto, nunca pude contar com pai, mãe, irmã(o)s ou qualquer familiar para conversar sobre meus sentimentos, sobre autoaceitação ou mesmo sobre como me proteger da LGBTfobia que começava a se desenhar em minha vida.
Cresci com a consciência de que precisaria aprender sozinha a lidar com essas questões, o que me levou a experiências que, embora eu hoje não rechace de todo, pois fazem parte de minha história e de quem sou, puseram continuamente minha existência em risco. Desde a adolescência, eu já tinha a nítida percepção de que minha atração não ia em uma só direção, mas também sabia que apenas uma parte desse desejo podia ser vivido abertamente. A outra parte, o desejo por homens, só seria possível de forma clandestina, com estranhos conhecidos em páginas de bate-papo ou em banheiros públicos.
Não existia uma única pessoa com quem eu pudesse conversar a respeito do que sentia, então o que me restava era reprimir esse desejo ao máximo e, quando não aguentasse mais, buscar algum alívio passageiro nesses espaços precários. Ter amigos do meio não era uma opção, uma vez que isso me denunciaria, mas, puxando pela memória, também não consigo me lembrar de uma única pessoa, nas tantas escolas em que estudei ou nos espaços que frequentei, que fosse abertamente LGBTQIA+.
Como aprender a se aceitar, a gostar de si, quando tudo ao redor repete insistentemente que sua mera existência é vergonhosa, doentia, pecaminosa? Como não se considerar um fracasso, um erro, uma ameaça, quando essa é a única maneira com que pessoas LGBTQIA+ são retratadas? O que aconteceu foi que internalizei sentimentos autodepreciativos, aprendendo a buscar nessas experiências precárias tanto o prazer que eu não conseguia evitar desejar, quanto a punição por não conseguir deixar de ser quem eu sou.
Dos 17 aos 20 e poucos anos, passei a realizar exames de sangue semestrais, a cada vez crente de ter finalmente contraído HIV ou alguma IST, algo que temia mais do que tudo, mas que, no fundo, julgava merecer. Nunca aconteceu, mas essa certamente não é a história de outros jovens e adolescentes. Quem dera se, para proteger jovens LGBTQIA+, bastasse apenas fazer mais campanhas estimulando o uso de preservativos. Há muito mais coisas em jogo nessa luta, como poder sentir orgulho de quem somos ou andar de mãos dadas com a pessoa por quem nos apaixonamos. E, para isso, o apoio da família é vital .
Contudo, não culpo meu pai e minha mãe. Eles fizeram o que estava ao alcance deles. Se na época não conseguiram me dar o apoio de que eu necessitava, hoje ao menos estão abertos a aprender, a fim de exercer melhor o papel que o destino lhes deu. Antes tarde do que nunca! E ainda servem de exemplo para outras famílias, dividindo comigo a responsabilidade de lutar por um mundo livre de LGBTfobia. E que mundo seria esse? Um mundo em que nossas famílias não desejem se livrar de nós, e onde nós também possamos constituir famílias.
No caso de Shuggie Bain, o protagonista do romance de Douglas Stuart, a questão é ainda mais complexa, pois não é apenas uma questão de discriminação que ele terá pela frente. O abandono do pai, a dependência química da mãe e a solidão em que vive, todo esse combo de vulnerabilidades fará com que ele tenha muitas dificuldades para enfrentar o bullying que recebe de todos os lados, para entender quem ele é e poder se sentir confortável com isso.
Esse bullying que sofre por ter um comportamento entendido como feminino, aliás, impactará a própria autodescoberta, levando-o a tentar desesperadamente se encaixar nos padrões esperados para seu gênero. Como querer se conhecer, se descobrir, quando todos ao redor afirmam que você é uma vergonha? Como enfrentar essa covardia com que a sociedade nos trata, com que a sociedade trata suas crianças? A mãe até queria protegê-lo, mas, no caso, ela precisa de ajuda tanto quanto ele, talvez até mais.
Não nos enganemos: essa não é apenas a história de Shuggie Bain. Essa é a história de como uma sociedade inteira foi educada a se comportar diante de existências fora dos padrões hegemônicos de gênero e sexualidade. A violência que sofremos foi aprendida, ensinada e, portanto, urge pensarmos em formas de desaprendê-la e de desensiná-la . Não há como chegar a essa outra realidade sem, antes, criarmos outros modelos de família, modelos em que pessoas LGBTQIA+ caibam.
Hoje estamos inventando o direito de sentir orgulho de nossa existência, orgulho de tudo que vivemos até aqui. No entanto, é preciso que a fase do orgulho seja temporária, é preciso que chegue um momento em que não tenhamos mais que estar na defensiva, sempre prontos e prontas para quaisquer ataques que venhamos a sofrer. Um momento em que possamos somente existir, com leveza, sem precisarmos de heroísmo ou força descomunal.
Vai chegar esse dia, ô se vai, e, quando chegar, saberemos da importância que tivemos para ele poder existir. Eis algo que não podemos esquecer nunca, algo para nos dizermos nos momentos de maior desespero, quando não conseguirmos ver nenhum tipo de saída, de desafogo: nós somos a sementinha desse novo mundo.
*Amara Moira é travesti, feminista, doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp e autora dos livros E se eu fosse puta (hoo editora, 2016) e Neca + 20 poemetos travessos (O Sexo da Palavra, 2021). Além disso, ela é colunista do BuzzFeed e professora de literatura do cursinho pré-vestibular Descomplica.







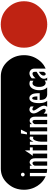
Siga-nos