
Quando a pandemia de Covid-19 se espalhou pelo mundo, grande parte da população achou que ninguém poderia ter previsto um acontecimento catastrófico dessa magnitude. Mas cientistas e agentes de saúde por todo o mundo já vislumbravam uma crise sanitária iminente havia mais de uma década e se preparavam para isso.
Nos Estados Unidos, tudo começou em 2005, quando o então presidente George W. Bush voltou de suas férias interessado em pandemias. Após lidar com a crise do 11 de setembro e ter anunciado o que ficaria conhecido como a Guerra do Iraque, o republicano estava preocupado com o que enfrentaria em seu segundo mandato. Ele havia lido A grande gripe, de John M. Barry, e decidiu reunir um grupo de especialistas para traçar um plano de combate a possíveis pandemias futuras. Mas, devido às mudanças na administração da Casa Branca nos dez anos seguintes, esse plano foi rapidamente esquecido e arquivado.
Em A premonição, Michael Lewis analisa as constantes batalhas de especialistas e agentes de saúde pública que se recusaram a seguir diretivas baseadas em desinformação e negacionismo. Um thriller de não ficção que explora a abordagem desastrosa do ex-presidente Donald Trump durante a pandemia apenas como uma parte do todo.
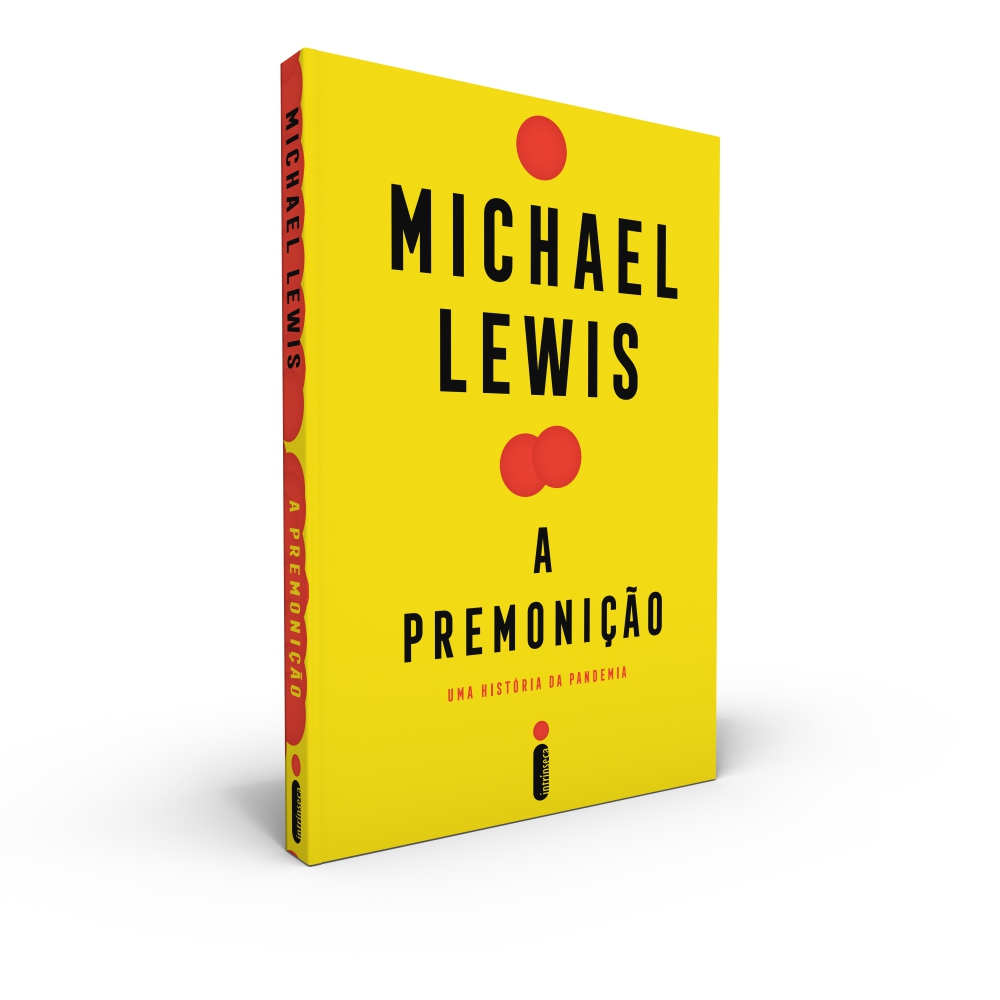
Leia um trecho:
Laura Glass tinha treze anos e começava a oitava série da Jefferson Middle School em Albuquerque, Novo México, quando deu uma olhada por cima do ombro do pai para ver no que ele estava trabalhando. Bob Glass era cientista do Sandia National Laboratories, criado em meados dos anos 1940 para descobrir tudo o que precisava ser descoberto sobre armas nucleares, menos a criação do plutônio e do urânio que elas carregavam. Foram os engenheiros do Sandia que calcularam como lançar uma bomba de hidrogênio de um avião sem matar o piloto, por exemplo. Em meados dos anos 1980, quando Bob Glass chegou, o Sandia tinha fama de ser o lugar para onde encaminhavam problemas ultrassecretos depois que todo o submundo da segurança nacional fracassara em encontrar uma solução. Atraía pessoas que corriam atrás das próprias ideias, passando por cima de quase todo o resto.
Gente como Bob Glass. Quando dava uma olhada no que o pai fazia, Laura Glass nem sempre entendia aquilo que tinha diante de si, mas nunca parecia ser algo chato.
O que ela viu naquele dia de 2003 foi uma tela repleta de pontos verdes que se movimentavam de modo aparentemente aleatório. Então notou que alguns dos pontos não eram verdes, mas vermelhos, e quando um ponto vermelho esbarrava num verde, o verde
ficava vermelho também. Era o que se chamava de um “modelo baseado no agente”, como explicou seu pai. Imagine que cada um desses pontos é uma pessoa. Existe um monte de pessoas no planeta. Uma delas é você. Existem tipos diferentes de pessoas, com cronogramas diferentes, e existem regras sobre o modo como essas pessoas interagem. Organizei uma espécie de horário para cada uma e depois soltei todas juntas para ver o que acontece…
Uma das coisas que Bob Glass gostava naquele tipo de estudo era a facilidade de explicá-lo. Os modelos eram abstrações, mas o tema abstraído era familiar: uma entidade única, que poderia ser descrita como uma pessoa, uma informação ou uma série de outras
coisas. À medida que os pontinhos verdes ficavam vermelhos era possível acompanhar uma fofoca se espalhando, um engarrafamento, o início de uma arruaça ou a extinção de uma espécie. “Quando começamos a apresentar a questão desse jeito, todo mundo consegue entender de imediato”, disse ele.
Seu modelo era um retrato grosseiro do mundo real, mas permitia enxergar coisas do mundo real que poderiam ser obscurecidas em um retrato mais detalhado. Também permitia que ele respondesse a perguntas complicadas que agora faziam parte da sua rotina, a maioria relacionada à prevenção de algum desastre nacional. O Federal Reserve Bank of New York [Banco da Reserva Federal de Nova York] tinha acabado de usá-lo para compreender como um fracasso que se dava em um extremo do sistema financeiro norte-americano poderia reverberar no outro. O Departamento de Energia queria que ele determinasse se uma pequena falha na rede elétrica poderia desencadear uma onda de apagões por todo o país. Assim que parava de falar de pessoas e começava a falar, por exemplo, de fluxos de dinheiro, correlacionar os pontinhos na tela e o mundo real ficava mais difícil para quase todo mundo entender, mas não para ele. “Eis o ponto crucial da ciência”, diria Bob com entusiasmo. “Toda ciência é baseada em constrição de modelos. Em todas as áreas da ciência, fazemos abstrações da natureza. A pergunta é: trata-se de uma abstração útil?” Para Bob Glass, útil significava: trata-se de uma abstração capaz de ajudar a resolver um problema?
Naquele momento, Laura Glass tinha o próprio problema: a feira de ciências daquele ano. Não dava para fugir. A ciência sempre exercera um papel importante em seu relacionamento com o pai. Era uma regra tácita da família Glass que ela e as duas irmãs competiriam na feira todos os anos. E, na verdade, Laura adorava. “O tipo de ciência que eu podia fazer com meu pai era muito diferente do tipo de ciência que eu fazia na escola”, confessou ela. “Com a ciência da escola eu sempre tive dificuldade.” Com o pai, a ciência era aquela ferramenta para encontrar novas perguntas interessantes para fazer e para responder. Que perguntas eram essas não importava: o pai não tinha o menor respeito pelas fronteiras entre os assuntos e pensava em todas as ciências como uma coisa só. Os dois criaram um projeto sobre a probabilidade com o jogo de cara ou coroa e outro sobre as diferenças na fotossíntese de espécies de plantas. A cada ano o processo ficava mais competitivo. “Quando o ensino médio começa a se aproximar a gente vê que a competição fica mais acirrada”, relembrou Laura.
Enquanto observava a tela do computador do pai, Laura pensou: É quase como se os pontos vermelhos estivessem infectando os verdes. Na aula de história, ela fizera leituras sobre a peste bubônica. “Eu, que não fazia ideia daquilo, fiquei fascinada. Um terço da Europa foi dizimado.” Ela perguntou ao pai: Seria possível usar esse modelo para estudar a propagação de uma doença? Robert não tinha considerado essa possibilidade. “Pensei, Deus do céu, como vou ajudá-la a fazer isso?”, disse ele. Mas essa colaboração era uma coisa inquestionável para pai e para filha. Enquanto a maioria dos pais era do tipo “pais da liga infantil de esportes”, Bob Glass era um “pai dos estudos científicos”. Talvez ele não se realizasse por meio dos projetos de ciência da filha da mesma forma que os outros pais se realizavam com os jogos de beisebol dos filhos. Mesmo assim…
Em pouco tempo pai e filha estavam imersos em um novo projeto para a feira de ciências. Naquele primeiro ano o modelo era grosseiro. A doença era a peste bubônica, o que, em Albuquerque, Novo México, em 2004, parecia um tanto bobo. A aldeia de Laura tinha dez mil habitantes, uma fração da população de seu distrito escolar. No que chamou de “Mundo Infectado”, as pessoas se contaminavam com a praga simplesmente ao passar perto das outras, o que não era realista. Como seria ela quem se colocaria diante de seus painéis de isopor com gráficos e tabelas para responder às perguntas dos juízes, também era ela quem tinha uma consciência mais profunda sobre as limitações de seu projeto. “Os juízes sempre perguntavam: Essa situação é realista? Como você pode aplicá-la e utilizá-la?”, relembra. Mesmo assim, Laura foi a única aluna na feira a apresentar um projeto de epidemiologia. Seu projeto a qualificou para o campeonato estadual. Ela procurou o pai e disse: Vamos fazer uma coisa real.
Para tanto, ela precisava de um patógeno mais plausível. “Falei para o meu pai: ‘Não vai ser a peste bubônica. Vai ser alguma coisa do mundo moderno, alguma coisa tipo a gripe.’” Fosse qual fosse o patógeno, Laura precisaria aprender mais sobre ele e sobre a sociedade na qual ele interagiria. “Ela veio até mim e disse: ‘Pai, não é muito bom que as pessoas fiquem doentes só de passarem umas pelas outras… Ah, e mais uma coisa, as pessoas não andam por aí desse jeito. Elas têm redes sociais. Preciso ter redes sociais por aqui’”, conta Bob. Durante o ano de 2004, Bob observou a filha, agora com catorze anos, preparar um levantamento e realizá-lo com centenas de pessoas em seu distrito escolar: funcionários de empresas, professores, pais, avós, alunos do ensino médio, do ensino fundamental, da pré-escola. “A princípio, eu devia procurar meus colegas e fazer perguntas”, disse Laura. “Com que frequência se abraçavam e se beijavam? Faziam isso com quantas pessoas? Sentavam-se ao lado de quantas pessoas diferentes todos os dias? Quantos minutos passavam sentados ao lado delas? Depois, deixei os colegas e me concentrei nos pais.” Laura mapeou suas redes sociais e seus movimentos, depois as interações entre diferentes redes sociais. Contou o número de pessoas com quem cada indivíduo interagia com proximidade suficiente para ser infectado com um patógeno transmitido por via aérea.
Ela ficou apaixonada pelo projeto de ciências e o pai adorou. Quanto mais Laura se aprofundava, mais ele se aprofundava também. “Eu a tratava como se fosse uma aluna da pós-graduação. Eu dizia: ‘Me mostre o que você fez e faço minhas perguntas.’” Para ajudar a filha, o modelo computacional de Glass precisava ser aprimorado de formas que estavam fora do alcance até mesmo do conhecimento dele. O programador mais talentoso que Bob Glass conhecia era um sujeito no Sandia National Labs, Walt Beyeler. “Sandia é mesmo um lugar bem esquisito. Los Alamos está cheio de gente com pedigree. Já Sandia contrata os cientistas mais brilhantes que consegue encontrar, mas não dá muita importância para o pedigree”, explica Glass. O próprio Glass correspondia à ideia que a maioria das pessoas faz de uma mente brilhante, mas era Walt quem correspondia à ideia de Bob. Pedir a ele que ajudasse com o projeto da filha para a feira de ciências era um pouco como chamar LeBron James para jogar uma pelada de basquete. Walt topou.
O modelo precisava incluir interações sociais realistas. Precisava levar em conta períodos de incubação, que é quando as pessoas estão infectadas, mas ainda não infectam. Precisava de pessoas assintomáticas, porém capazes de propagar a doença. Precisava que indivíduos imunizados ou mortos fossem removidos da rede. Precisava fazer pressupostos sobre o comportamento social dos doentes e sobre a possibilidade de uma pessoa infectar outra quando entrassem em contato. Pai e filha concordaram que, dada a natureza de suas próprias interações, as crianças tinham o dobro de possibilidade de se infectarem em qualquer interação social em relação aos adultos. Em prol da simplicidade, concordaram em deixar algumas coisas de fora. “Não tínhamos universitários no modelo”, disse Bob Glass. “Deixamos de lado casos de uma noite e coisa e tal.”
Bob Glass ficou seriamente interessado. Para ele, parecia menos com um projeto de ciências e mais com um projeto de engenharia. Ao compreender como uma doença avançava dentro de uma comunidade, seria possível encontrar formas de diminuir seu ritmo e até detê-la. Mas como? Bob começou a ler tudo o que podia sobre doenças e a história das epidemias. Chegou até A grande gripe, livro do historiador John M. Barry sobre a pandemia de gripe de 1918. “Eu olhei aquilo e pensei: ‘Meu Deus, cinquenta milhões de pessoas morreram!’ Eu não fazia ideia. Então comecei a pensar quão importante era esse problema.”
Pai e filha ficaram alertas para o verdadeiro mundo das doenças. No outono de 2004, ficaram assustados ao lerem a notícia sobre a contaminação de uma fábrica de vacinas em Liverpool, na Inglaterra, que levou os Estados Unidos a perderem metade de seus suprimentos da vacina contra a gripe. Não havia vacina suficiente para todos. A pergunta era: quem deveria tomá-la, então? A política do governo norte-americano na época era administrar doses para os indivíduos com o maior risco de morte: os idosos. Laura achou que isso não era correto. “Ela disse: ‘Os jovens têm muito mais interações sociais, são eles que transmitem a doença’”, recordou-se o pai. “E se as vacinas fossem aplicadas neles?”, questionou Laura. Assim, pai e filha retornaram ao modelo e ajustaram a aplicação de vacina em jovens, eliminando sua capacidade de transmissão. De fato, os idosos não contraíam a doença. Bob Glass vasculhou a literatura atrás do infectologista ou epidemiologista que já tivesse chegado a essa conclusão. “Só consegui encontrar um artigo que sugerisse isso”, disse ele.
No fim, Laura Glass, então caloura do ensino médio na Albuquerque High School, ganharia o grande prêmio da feira de ciências estadual do Novo México. Estava a caminho da competição internacional em Phoenix, contra dois mil estudantes de todas as partes do mundo. Seus grandes painéis de isopor se concentravam estritamente em uma pergunta: “As cepas de gripe sofrem mutações o tempo inteiro. O que aconteceria se não tivéssemos a vacina apropriada a tempo?” Bob, por sua vez, já havia lido ou, pelo menos, passado os olhos em tudo o que havia sido escrito sobre epidemias e como controlá-las. A doença de 1918, que matara cinquenta milhões de pessoas, surgiu a partir de uma série de mutações no vírus dentro de alguma ave. Em 2005, a gripe sazonal já apresentava algumas dessas mutações. “Uma questão de vida ou morte com proporções globais se aproximava”, escreveria ele mais tarde. No entanto, todos os especialistas presumiam basicamente que, nos primeiros meses após o surgimento de alguma mutação assassina, pouco poderia ser feito para salvar vidas além de isolar os doentes e rezar por uma vacina. O modelo que Bob desenvolvera com a filha demonstrava não existir diferença entre aplicar uma vacina e remover o indivíduo de suas redes sociais: nos dois casos, a pessoa perdia a capacidade de infectar os outros. Os especialistas, porém, só falavam em acelerar a produção e a distribuição das vacinas. Ninguém parecia estar explorando formas mais eficientes e menos disruptivas de retirar as pessoas de seus círculos sociais. “E então eu tive esse medo súbito”, disse Bob. “De que ninguém perceberia o que poderia ser feito.”
***
A premonição chega às livrarias e lojas on-line em 25 de junho.

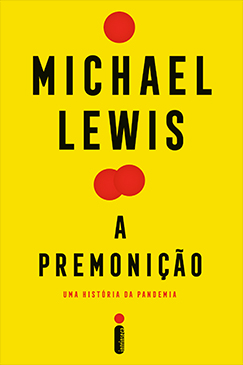
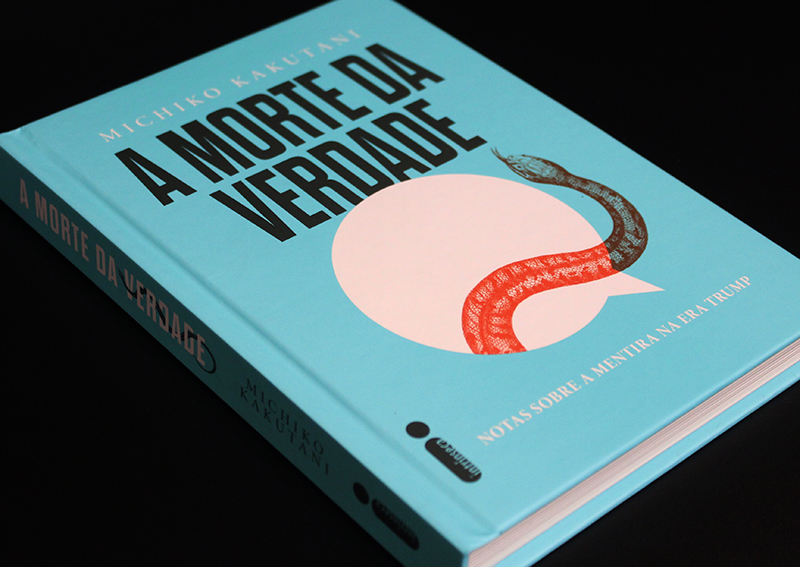




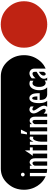
Siga-nos