Por Heloiza Daou*
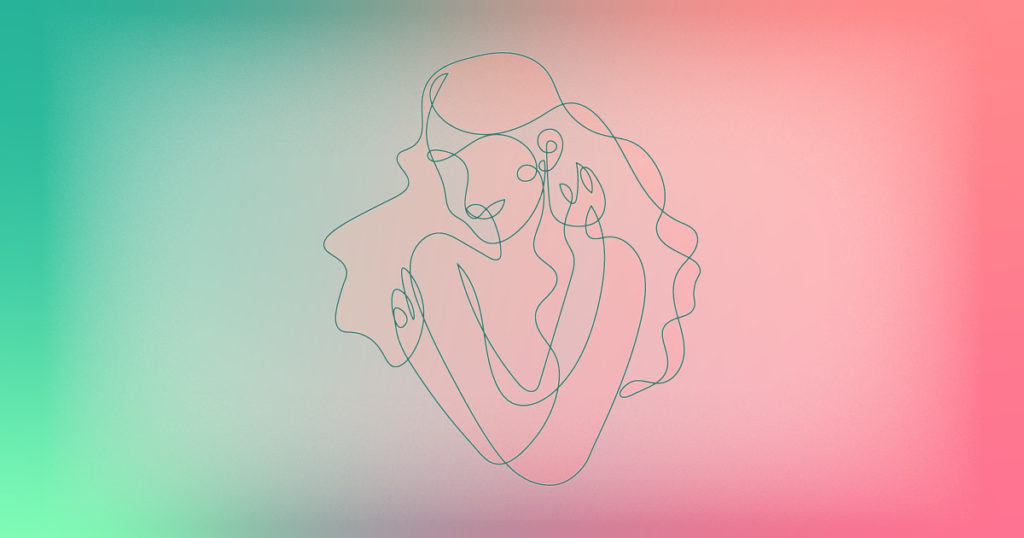
Meu filho nasceu a caminho da maternidade, dentro de um carro. Por alguns segundos, tive plena certeza de que eu morreria. Mesmo. Ele estava sentado e começou a sair de dentro do meu útero. Articulou pernas, braços, ombros e cabeça e nasceu na altura do Largo do Boticário, no bairro das Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Veio para meus braços quieto, no meio daquele ambiente que cheirava a loucura. Eu não morri. Ou, pelo menos, era o que eu achava.
Alguns dias depois, passada a chuva de hormônios iniciais, eu me vi em casa, sentada no sofá da sala num fim de tarde, com um recém-nascido nos braços, olhando viagens, festas e encontros nos porta-retratos da estante. Meu peito pegava fogo e eu estava exausta. Chorava vendo as fotos e soluçava alto, pensando que nunca mais conseguiria viajar. Tive certeza absoluta de que a minha vida tinha acabado. Hoje, depois de três anos e meio, não tenho como negar: eu estava um pouco certa.
“Um filho muda tudo” era a frase que mais ouvia quando estava grávida. Ainda assim, é muito difícil imaginar a quantidade de mudanças que ele causa: a vida vira um embaralhar constante e difícil das cartas de prioridades. Porém, o que me deixa mais realizada, hoje, não é exatamente o fato de eu ter me tornado mãe, mas de eu ter me tornado a mulher que sou após parir.
Nenhuma mulher precisa ser mãe para ser alguém. Sempre tive isso em mente, antes mesmo de ter um filho, e esse pensamento só ficou ainda mais forte depois de ter: somos incríveis e inteiras independentemente desse papel.
Maria Homem e Contardo Galligaris, em Coisa de menina, falam dessa dualidade enfrentada desde sempre pelas mulheres. A nossa cultura é construída pela ideia de que a mulher é representante do mal, amiga do demônio, uma projeção dos desejos que o homem não consegue controlar. Ao mesmo tempo, existe o culto público à figura da mãe: “O materno é o grande instrumento de repressão do sexual feminino. A mulher se vê educada para ser ou mãe, ou mulher, como se fossem dois campos em oposição.”
Essa consequência mulher-mãe, que parece “natural”, no fundo, é maldita e esconde algo bem importante que acontece quando uma mulher tem um filho: ela fica invisível. É tudo sobre a criança, nada mais é sobre a mulher. Esquecem até o nosso nome, ou pior, fazem questão de não o dizer. Somos chamadas de “mamãe de”, “mãe” e “mãezinha”. É um apagamento diário da nossa personalidade enquanto estamos muito vulneráveis, passando por uma solidão e por um cansaço sem tamanhos, em que detalhes simples de cuidado nos emocionam, porque nos lembram que a gente existe. É tão duro passar por essa solidão – principalmente sem apoio – que, quando a separação emocional entre mãe-criança/mãe-mulher acontece, o que a gente enxerga com frequência é a progenitora oprimida virar opressora: “Ele ainda não anda?”, “Ele ainda não fala?”, “Nossa, comigo foi muito mais fácil”, “Acho que você está fazendo errado.” Uma vingança dura. De mulher pra mulher.
A maternidade, hoje, infelizmente, leva a rivalidade feminina ao ápice. É um projeto bem montado para que primeiro sejamos mulheres desejáveis rivalizando — mas não muito livres nem interessante demais, por favor —, e para que logo em seguida sejamos mães, anuladas e apagadas no feminino, nas nossas vontades e nos nossos desejos, dedicadas única e exclusivamente aos filhos e à família. Sempre de forma perfeita, fato que não conseguimos sustentar por muito tempo, claro. “A sensação de que estamos fracassando naquilo que o mundo mais espera de mim”, diz Maria Homem. A questão é que o fracasso não existe se ser mãe não for a sua única função no planeta. E vejam só, não é.
Eu aprendi, depois de algum tempo, que não precisava fazer a escolha entre ser mãe ou ser mulher. Aprendi isso vivendo e estudando. Aprendi também porque tive muita ajuda. Foram muitos textos, filmes e áudios, além do contato com mulheres feministas incríveis dentro e fora de casa, que me fizeram entender que eu só poderia viver a potência da maternidade no seu esplendor se eu vibrasse antes, durante e depois pela mulher que realmente sou.
O meu desejo no dia de hoje e sempre é que as mulheres quebrem o ciclo do apagamento. Ouçam outra mulher. Todas nós precisamos de ajuda e incentivo para sermos nós mesmas. Apoiem nosso brilho, nossos gritos, nossas vontades. Não julgue outra mulher: a que não tem filhos; a que não quer ter; a que quer os ter e a que já os tem. Ajude outra mulher. Da forma que você conseguir: seja por áudio, bolo, mensagem, foto ou abraço.
Você que é mãe: pense em você, nos seus desejos, nas suas vontades mais loucas que não passam pelos seus filhos. Abra suas asas. Se possível, deixe o bebê no colo de outro adulto ou em algum lugar seguro e coma sua refeição quente. Faça escolhas individuais, assista a filmes adultos, converse com adultos. Não deixe nunca que a diminuam como mulher. Seja chata, peça ajuda, clame pela sua própria mãe e reclame alto, muito alto. E nunca, jamais, deixe que a chamem de mãezinha. A gente tem nome, personalidade e história. Mãezinha, não.
*Heloiza Daou é movida a palavra e diretora de marketing na intrínseca. Obsessiva por boas histórias, sejam elas de livros, dos filmes ou da vida. É também mãe do Tomás e da Cora, o job mais insano que já teve o prazer de tocar.






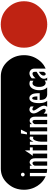
Siga-nos