Por Mariana Enriquez*
Tradução de Elisa Menezes
Mando um e-mail. Preciso resolver uma questão administrativa de trabalho. Respondem, resolvendo mais ou menos rápido, e a pessoa que me atende acrescenta, antes de se despedir, “ISSO parece um conto seu”.
ISSO é a pandemia, claro.
Respondo com um “obrigada” lacônico, sem menção alguma à observação sobre os meus contos que, de fato, são de terror. Não sei o que dizer. Isso acontece quase o tempo todo, e constantemente me pedem para dizer algo. Uma coluna sobre como estou lidando com o confinamento. Uma opinião sobre a natureza mutante do vírus. Acho bonitas as cidades vazias e parcialmente retomadas pelos animais? Tudo é contraditório e angustiante. Um escritor, um artista, deve poder interpretar a realidade, ou ao menos tentar. Como alguém que trabalha com a linguagem, eu deveria colaborar com o debate público. Pensando, escrevendo, interpretando. Mas, a cada dia que passa, pensar nessa pandemia se torna uma neblina densa: não enxergo, estou perdida, mal consigo distinguir minhas mãos se as estendo. A escritora Carla Maliandi comenta em seu Facebook que o filósofo Karl-Otto Apel, amigo de sua família, contou, entre uma empanada e outra, que “durante a Segunda Guerra Mundial precisou prestar serviço militar na Alemanha. Sua tarefa era patrulhar as ruas dentro de um tanque de guerra enquanto do lado de fora bombas explodiam e o mundo era o próprio inferno. Ele nos disse que foi um momento muito importante em sua formação e que graças àquela clausura pôde ler e estudar Aristóteles, Kant e Hegel pela primeira vez”. Maliandi se pergunta como é possível uma concentração assim, a propósito de uma nota em que diversos escritores se dizem incapazes de ler, de ver filmes, ansiosos e hiperalertas e passam a metade do tempo em vídeo-chamadas ou checando se parentes e amigos precisam de alguma coisa.
Por que tenho que ser intérprete desse momento?
Porque escrevi alguns livros? Me rebelo ante essa demanda por produtividade quando tudo que sinto é perplexidade. Poder, poder, poder, o que podemos fazer, o que podemos pensar. Conversando com uma amiga, eu disse, sinceramente: “penso curto”. É verdade. Não encontro reflexões. Encontro: como (não) usar internet banking com bancos que oferecem sistemas hostis, não atendem o telefone e são implacáveis na cobrança de pagamentos. Encontro: como evitar o medo cada vez que meu companheiro sai para comprar a nossa comida. O que farei se ele ficar doente. É muito pouco provável que isso aconteça, digo a mim mesma e me dizem os especialistas. Tudo o que repito não me serve de nada e tenho pavor de que ele termine em um hospital de campanha. Ou minha mãe. De outro veículo, recebo uma série de perguntas: “Quais medos o isolamento gera? Que traumas ele provoca? O que vai acontecer com a humanidade? Como construir o novo normal?”
Todas as perguntas me deixam muda. Todos os traumas, todos os medos, não sei o que vai acontecer com a humanidade, como pensar em “humanidade”, o que isso significa, por que temos que pensar na nova normalidade se a pandemia acabou de começar, pelo menos na Argentina. Todas essas palavras que escuto, todo esse barulho feito de opiniões e dados e metáforas e recomendações e lives no Instagram e a continuidade das atividades em formato virtual, toda essa intensidade não seria, por acaso, puro pânico? Que buraco se tenta tapar? Qual fantasia de extinção? Penso em insetos escapando da mão que ergue o veneno. A barata que corre e corre e consegue se esconder atrás da máquina de lavar.
Sinto como se tivesse acabado de sofrer um acidente de carro. Vejo a fumaça saindo do motor, sinto o cheiro de queimado, não sei se haverá uma explosão, meu corpo dói porque o impacto é muito recente e, do outro lado da janela, vinte pessoas me perguntam: “Vai comprar um carro novo? Acha que esse aí tem conserto? Vai conseguir levar uma vida normal se uma perna for amputada? As pessoas do outro carro sobreviveram ao acidente? Você vai ajudá-las financeiramente caso tenham sequelas? Vai pagar o enterro se tiverem morrido? Seu filho, que estava no banco do carona, estava usando cinto de segurança?” É assim todos os dias.
Às vezes consigo sentir algo que me ultrapassa em outro sentido que não o do transbordamento diário. Algo sublime, profundo. Um silêncio no mundo causado por esse agente que não está vivo nem morto, que precisa de um hospedeiro para viver até que se cansa dele ou o mata. Certa irmandade global. Dura pouco. Tenho medo de ter apendicite e não ser operada e morrer porque os leitos estão ocupados por pacientes com coronavírus. Tenho medo de ser terrivelmente mesquinha e pouco solidária. Tenho medo de ver nas ruas da periferia de Buenos Aires as mesmas cenas de Guayaquil, os cadáveres nas calçadas, as pessoas sufocadas arrastando-se nas emergências, o homem que deixou a mãe morta em um banco e usou um guarda-sol para proteger o corpo envolto em um pano colorido. Os caixões de papelão. Não quero atravessar esse horror de jeito nenhum, nem como espectadora nem como testemunha nem como cronista nem como vítima. Em alguns dias acordo e penso que não vale a pena viver assim, e em outros, digo a mim mesma que tudo passa, que sempre que choveu parou, que os vírus têm ciclos, que as pandemias acabam, que as vidas se reconstroem. Ontem estava alegre por ter vivido intensamente, por todas as viagens, todos os shows, todas as drogas, todos os amantes. Como se me despedisse do mundo. É um estado de luto. Mas não sei bem o que morreu. Ou se está morrendo. Não sei. Continuam me perguntando, e eu não sei. O que estou lendo? Nada. Comecei, porque trabalho remotamente de casa, A condessa sanguinária, de Valentine Penrose, e a história da assombrosa Erzsébet Báthory me entretém, talvez porque ela tenha vivido em um mundo infinitamente mais cruel e mais difícil, com doenças à espreita atrás de cada árvore, com bruxas da floresta que sequestram crianças para fazer poções com seus corações. O que estou assistindo? Twin Peaks, porque mergulhar no pesadelo alheio é uma estranha espécie de alívio. Não muito mais do que isso: passo o restante do tempo ao telefone ou diante de telas ou trabalhando com uma lentidão espantosa ou lendo notícias até enlouquecer. Sei que devo ler menos notícias e que toda essa informação não serve para nada, mas sinto alguma ilusão de controle e além do mais não se fala de outra coisa e, perdão, mas não tenho a presença de espírito nem o distanciamento nem o equilíbrio para começar a ler Eurípides. Admiro os que se sentam com A montanha mágica e os que aprendem receitas e sobretudo os que se entediam.
Não é do meu feitio.
Não tenho essa força.
Talvez esteja deprimida: a terapia nesse momento também é virtual e não sei se tenho coragem de começar uma medicação hoje, em face da recomendação de não chegar perto de hospitais. Também: minha própria crise emocional me parece idiota. É idiota. Estou em um canto, de joelhos, esperando que isso passe, que vá embora, que se apague. Não fui feita para crises. Tento me lembrar de outras. 2001-2002: um ano ou mais recebendo metade do salário e morando com minha mãe em uma vizinhança perigosa; todas as noites ouvíamos tiros e, se tarde da noite eu precisasse comprar cigarros, ia correndo até a avenida porque os assaltos eram comuns e também por causa do risco de acabar no meio de um tiroteio. A adolescência com hiperinflação, 1989, crise energética, cortes de luz programados, pais desempregados, dormir no sofá porque não tinha cama e não havia dinheiro para comprar uma nem lugar para colocá-la. Há outras, algumas pessoais, que não faz sentido e nem quero tornar públicas. Nenhuma me preparou para isso? Nenhuma me preparou para isso.
Chega outro e-mail, outra entrevista, outra mensagem. O que acho disso enquanto escritora de terror. Como ressignificar o medo. Queremos sua opinião sobre o medo que todos sentimos.
Tento ser irônica e ensaio algumas linhas: as pandemias são do terreno da distopia, não escrevo esse subgênero, gosto dele, mas não o li tanto (tudo verdade). Apago o que escrevi. Tudo bobagem. Leio um artigo fabuloso do pintor e escritor Rabih Alameddine sobre quando recebeu o diagnóstico positivo para HIV. Morava em São Francisco enquanto em sua terra natal, o Líbano, a guerra civil rugia. Contudo, decidiu voltar, porque sentia medo e não queria morrer sozinho. Em pouco tempo estava de volta à Califórnia. Começou a jogar futebol. Metade do time morreu. Ele continua vivo, hoje, e disse não se lembrar de quantas pessoas viu morrer. Recordo os dias terríveis da aids, eu era muito nova, lembro o medo que o bairro sentia dos possíveis infectados, lembro os amigos da minha mãe que morriam sozinhos porque, além de tudo, tinham sido rejeitados pela família. Aquilo foi muito cruel. A coragem deles. Minha vergonhosa covardia. Penso nas vítimas dos tsunamis, das guerras, dos naufrágios no Mediterrâneo, do narcotráfico, da violência institucional, de outras epidemias, da fome. A morte em larga escala e trágica e solitária é a regra. Me dou conta do meu privilégio. Sinto vergonha dele, principalmente neste continente. Não consigo deixar a autorreferência e isso me angustia porque tento evitar esse eu eu, mim mim. Reclamar é patético. Não reclamo em voz alta. Tento, mas estas palavras devem ser uma reclamação.
Este texto serve? É exagerado? Por que dizer: não consigo dizer? Aqui é só a minha ansiedade falando. E a sensação de iminência. É possível que hoje eu seja feita apenas de ansiedade. Ela me deixa muda e imóvel na poltrona, aprisionada. Não aprisionada em casa, isso não importa. Aprisionada em minha cabeça.
*Texto originalmente publicado em abril de 2020 no site Página12.









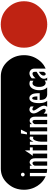
Adorei o texto
Maravilhoso
É a ansiedade que todos estamos vivendo. Belo texto.
Creio que todos , em todo mundo pelo menos os que ainda tem o senso comum aguçado, sofrem tanto quanto a autora do texto. É terrível viver nessa ansiedade sem
ter certeza de quando isso vai acabar.
Muito bom, é bem a realidade de muitos