Por Bruno Lages*
Distopias revelam o que há de pior em nós e no mundo, materializam no presente o futuro mais sombrio possível — por mais improvável que ele possa parecer. E embora possam ser lidas em qualquer momento da vida, são fundamentais para leitores em formação. Quando alguém me pede para indicar um livro para a irmã mais nova, o filho ou para o sobrinho adolescente, minha resposta é sempre a mesma: quais distopias ele já leu?
Mais do que as utopias — gênero marcado pela composição de cenários e organizações sociais ideais, como A República, de Platão, e Utopia, de Thomas More —, são as histórias distópicas que têm grande potencial de exercer sobre nós o papel que Kafka atribuía à boa literatura: deixar uma cicatriz.
Entre meus livros preferidos, tenho uma lista de distopias. Ela começava com Aldous Huxley e acabava com Cormac McCarthy. Isso foi até eu conhecer o quarto romance da escritora canadense Emily St. John Mandel, Estação Onze.
 O romance de St. John Mandel parte do momento em que, na Toronto dos dias de hoje, um vírus altamente contagioso (mais mortal do que o Ebola) se espalha e dizima 90% da população mundial. Em poucos meses, a Terra mergulha nas trevas e na precariedade de um mundo pré-civilizatório. Os sobreviventes são nômades e vivem sem nenhum tipo de energia (elétrica, atômica ou criada a partir de combustíveis fósseis) e tudo o que ela possibilita (de banho quente a aviões, de analgésicos a internet).
O romance de St. John Mandel parte do momento em que, na Toronto dos dias de hoje, um vírus altamente contagioso (mais mortal do que o Ebola) se espalha e dizima 90% da população mundial. Em poucos meses, a Terra mergulha nas trevas e na precariedade de um mundo pré-civilizatório. Os sobreviventes são nômades e vivem sem nenhum tipo de energia (elétrica, atômica ou criada a partir de combustíveis fósseis) e tudo o que ela possibilita (de banho quente a aviões, de analgésicos a internet).
Estação Onze é antes de mais nada um livro muito bem escrito. Tanto pelo apuro da linguagem quanto pela estratégia de contar uma história a partir de três tramas que se desenvolvem de forma simultânea, em camadas que se sobrepõem, se influenciam mutuamente e conferem beleza e profundidade à narrativa.
![]() Leia um trecho de Estação Onze
Leia um trecho de Estação Onze
Cada trama se desenrola em um tempo diferente. Em um passado recente, pré-epidêmico, entramos em contato com o ator Arthur Leander, sua primeira esposa, Miranda, e seu melhor amigo, Clark. No presente pós-apocalíptico, o livro retrata a Sinfonia Itinerante: um grupo de jovens atores e músicos que viaja em carroças pela região dos Grandes Lagos, no norte dos Estados Unidos. A missão da trupe é apresentar peças de Shakespeare e concertos de música erudita. Além do desafio de sobreviver em um mundo hostil, eles têm de lidar com uma seita fanática liderada pelo autointitulado “profeta” de uma pequena comunidade que os ameaça.
A terceira narrativa do romance é uma história dentro da história. Um dos personagens, Miranda, passa anos escrevendo uma graphic novel de ficção científica chamada (por que não?) Estação Onze. A narrativa ilustrada — cujo título remete à uma estação espacial para onde os humanos fogem quando o planeta se torna inabitável — passa a ser lida e cultuada por vários dos sobreviventes que vagam num mundo quase desabitado, fascinados por tudo o que for anterior à catástrofe.
Camada após camada, vamos nos transformando em arqueólogos de nosso próprio tempo. A nostalgia dos personagens sobre o estilo de vida que levamos hoje, no começo do século XXI, nos leva a sentir falta do que ainda não perdemos. E dessa forma a autora analisa uma condição humana universal: a ausência. Fruto de uma sociedade e da sua cultura, o ser humano é marcado pela falta.
O que torna Estação Onze uma distopia peculiar é a forma como essa ausência é preenchida: com algo que poderíamos chamar de instinto de arte. As montagens da Sinfonia Itinerante de Sonho de uma noite de verão ou suas performances de Bach se contrapõem radicalmente à decadência crua, violenta e, muitas vezes, escatológica que costumamos encontrar em outros livros do gênero.
As distopias que costumo recomendar para leitores que não temem pesadelos não descrevem apenas a perturbadora desconstrução das estruturas físicas da civilização e o colapso quase total das conquistas tecnológicas; expõem também uma raspagem radical da fina camada de verniz civilizatório que recobre nossas interações sociais. No entanto, pode-se argumentar que toda distopia tem um ponto de luz em meio à escuridão: o persistente amor entre pai e filho em A Estrada, de Cormac McCarthy, a mulher do médico em Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, a coragem em estado puro de Winston em 1984, de George Orwell, e o selvagem Shakespeariano — uma referência que não saiu da minha cabeça durante a leitura de Estação Onze — em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley.
Emily St. John Mandel vai além da oposição entre luz e sombra. Na sua versão do apocalipse, a destruição desse verniz civilizatório revela mais do que brutamontes escondidos pelas telas de smartphones e casas inteligentes: para lidar com o mundo precisamos de música, construímos histórias, colecionamos objetos inúteis por sua simples beleza. Em Estação Onze não há maniqueísmo. Somos assassinos e artistas, somos capazes de manejar a faca e a rabeca com a mesma naturalidade. Mesmo sem o verniz, ainda somos o médico e o monstro.
Nesse sentido, Estação Onze se assemelha a Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que retrata um futuro distópico em que livros são caçados e queimados. Para fugirem da pena de morte reservada aos que insistem em possuir e ler livros, os rebeldes de Bradbury escolhem um livro e, depois de decorarem seu conteúdo palavra por palavra, destroem-no e abandonam seu nome de batismo para adotar o do título. Tornam-se pessoas-livro cuja missão é recitar o conteúdo da obra e mantê-la viva. Se estivéssemos vivendo na Londres de Faherenheit 451, não me causaria espanto esbarrar com um ou outro Estação Onze por aí.
![]() Leia também:
Leia também:
Curiosidades sobre Estação Onze ou “Porque sobreviver não é suficiente”
A bondade nos tempos de guerra
Bruno Lages, 39 anos, tem mestrado em linguística aplicada e trabalha como editor de livros didáticos há 8 anos.










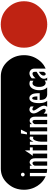
É muito importante para nós, passageiros da rotina, parar para analisar simples coisas como nosso comportamento e o meio em que vivemos. E nos fazendo pessoas melhores, livros assim tem por finalidade deixar uma visão crítica que, como muito bem citado, são como uma cicatriz.
O cenário pós apocaliptico me traiu. Como você falou é sentir falta daquilo que ainda se tem. Quero esse livro pra ontem.